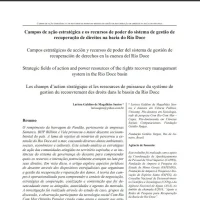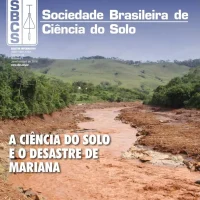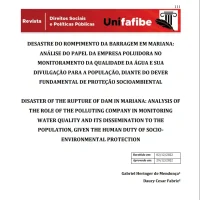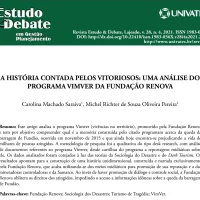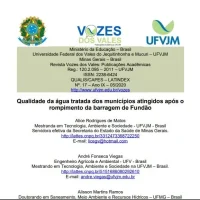Estudos Dos Acadêmicos

Filtros
Itens da Coleção
Mobilizando a sociedade civil: inovação organizacional e repertórios de confronto no desastre do rio Doce.
Arquivo
Analisa as mobilizações sociais no desastre socioambiental do Rio Doce, no bojo de relações conflitivas entre sociedade civil, mercado e Estado. Argumenta que no contexto de desastre emergiram mudanças na ação coletiva que caracterizam processos de inovação organizacional: (a) na emergência de novos ativismos, incremento do associativismo civil e novos formatos organizacionais e; (b) nos repertórios de confronto caracterizados pela combinação entre ação extrainstitucional, ação institucional e tática multiescalar. Argumenta também que as transformações na ação coletiva se vinculam a dois elementos que impulsionam as mobilizações: (a) as restrições políticas e institucionais impostas pelo sistema de governança do desastre à participação e ao reconhecimento das pessoas afetadas; e (b) as organizações preexistentes que desempenharam papel fundamental na mobilização dos atingidos, funcionando como incubadoras para o movimento social contencioso ao agir sobre sua formação organizacional e identitária.
Institucionalização e capacidades estatais em dois munícipios capixabas atingidos pelo desastre-crime do rio Doce: Os casos de Colatina e Linhares.
Arquivo
O objetivo deste artigo é comparar os diferentes padrões de institucionalização e construção de capacidades estatais em um momento crítico. A análise se divide em duas frentes: (a) Analisar o processo histórico de interação entre os atores estatais e os atores de mercado, induzindo a construção de capacidades estatais em diferentes níveis federativos, especialmente no nível municipal, e o contexto do desastre-crime socioambiental do Rio Doce e; (b) Comparar os diferentes padrões de institucionalização e construção de capacidades estatais relacionados à área de meio ambiente a partir dos resultados das interações entre os atores estatais e não estatais. Os resultados mostram diferentes padrões de dispositivos de políticas públicas instituídos como resposta ao desastre-crime entre os municípios.
O povo indígena tupinikim no contexto do desastre no rio Doce.
Arquivo
O texto é parte de uma etnografia sobre o Desastre no Rio Doce e seus impactos nos povos Tupinikim no município de Aracruz estado do Espírito Santo. Descreve-se a organização dos leitos indígenas por indenização, a formação de coalizões e segmentações a partir dos conflitos gerados no contexto do Desastre. A partir de categorias empregadas pelos Tupinikim para tornar inteligíveis sua afetação, discute-se como ocorrem as interações e os regimes de apropriação do desastre e suas consequências para a organização social desse povo.
A interação entre a sociedade civil e o ministério público do trabalho do estado do espírito santo: Um estudo a partir do desastre da Samarco.
Arquivo
Em novembro de 2015, o Brasil sofreu o maior desastre socioambiental de sua história, conhecido como desastre da Samarco. Um arranjo institucional especial foi criado para mitigar os danos envolvendo diversos órgãos públicos entre os quais verificou-se atuação do Ministério Público. Neste artigo, com base na literatura que trata da judicialização das políticas públicas pelo Ministério Público, nos perguntamos sobre o papel do Ministério Público do Trabalho (MPT) no encaminhamento e resolução de problemas e conflitos relacionados ao trabalho no contexto de desastre. A análise de dados obtidos nas audiências realizadas no inquérito civil instaurado pelo MPT no Estado de Espírito Santo mostra o protagonismo compartilhado entre o MPT e as organizações da sociedade civil.
Campos de ação estratégica e os recursos de poder do sistema de gestão de recuperação de direitos na bacia do Rio Doce.
Arquivo
O rompimento da barragem de Fundão, pertencente às empresas Samarco, BHP Billiton e Vale provocou o maior desastre socioambiental do país. A lama de rejeitos de minérios de percorreu a extensão do Rio Doce até o mar, causando diversos danos ambientais, sociais, econômicos e culturais. Este estudo analisa as estratégias de ação das comunidades atingidas no território capixaba, e as instâncias do sistema de governança do desastre para compreender quais os recursos e interações potencialmente avançam na luta por seus direitos. Em vista disso, o artigo explora aspectos jurídicos do desastre através dos dispositivos extrajudiciais que organizam a gestão da recuperação e reparação dos danos. A teoria dos campos é operacionalizada para compreender o cenário de negociação, estratégias de cooperação, coalização e contestação que foi desencadeado entre os atingidos, autoridades e agentes do mercado. A investigação foi realizada através do estudo de caso, grupos de discussão, e observação participante da tecnologia social Com Rio Com Mar Opinião Popular criada como apoio e suporte aos atingidos, e da atuação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
As dificuldades da participação: Desencontro de interesses na recuperação do rio Doce.
Arquivo
O exame de experiência de implementação de uma tecnologia participativa (CRCMOP) nas comunidades atingidas pelo desastre do Rio Doce, no Espírito Santo, ao longo de dois anos, permite atentar para as dificuldades da participação da população atingida na governança da gestão do desastre, especificamente na definição das ações de reparação, compensação e indenização a serem realizadas pela extinta Fundação Renova. Argumentamos que a formulação de demandas e sua projeção às instituições competentes para acolhe-las e lhes dar resposta depende de pressupostos relativos a duas dimensões: cognitivo simbólica e sócio-institucional. Ambas, em boa medida, ausentes no caso das comunidades atingidas, particularmente daquelas situadas na foz do rio. Por isso, argumentamos, a gestão do desastre socioambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão acusa uma forma peculiar de desencontro de interesses entre comunidades atingidas e instituições incumbidas dessa gestão. As dificuldades diagnosticadas podem ser comuns a outros contextos de grandes desastres.
A fotografia de um desastre: um olhar existencial.
Arquivo
Este relato de experiência tem como objetivo explorar e pensar a fotografia como linguagem para expressar o fenômeno do desastre como cerceador da liberdade existencial dos atingidos de Paracatu de Baixo, distrito de Mariana, destruído pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco no dia 05 de novembro de 2015. Para tanto haverá a construção de um referencial teórico abordando os seguintes conceitos estruturantes: desastre, vulnerabilidades, risco, resiliência, liberdade existencial, linguagem, fotografia como linguagem. A condução metodológica da pesquisa será feita via arqueologia fenomenológica e tem-se como resultado principal a apresentação, por meio da linguagem fotográfica, como o desastre em questão interferiu e interfere na liberdade existencial dos atingidos do distrito de Paracatu de Baixo.
A Ciência do Solo e o Desastre em Mariana
Arquivo
"Boletim Informativo da Sociedade brasileira de Ciência do Solo, Número 01, volume 42, janeiro/abril de 2016.
Este número trata sobre o desastre de Mariana refletindo sobre o que a ciência do solo pode fazer para minimizar os danos ambientais, econômicos e sociais desta tragédia.
Os destaques da edição são os seguintes artigos:
- "Opinião: A ciência do solo e o desastre de Mariana", de Igor Assis.
- "Paisagens de lama: os tecnossolos para recuperação ambiental de áreas afetadas pelo desastre da barragem do Fundão, em Mariana", de Carlos Ernesto G. Reynaud Schaefer, Eliana Elizabet dos Santos, Elpídio Inácio Fernandes Filho e Igor rodrigues de Assim.
- "A ciência do solo como instrumento para a recuperação das áreas afetadas pelo desastre de mariana e dos solos na Bacia do rio Doce", de João Herbert Moreira Viana e Adriana Monteiro da Costa.
O Desastre na Barragem de Mineração da Samarco: fratura exposta dos limites do Brasil na Redução de Riscos de Desastres.
Arquivo
Na tarde de 5 novembro de 2015 a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, uma empresa joint venture da companhia Vale do Rio Doce e da anglo-australiana BHP- Billiton, se rompeu liberando um volume estimado de 34 milhões de metros cúbicos (m3) de lama, contendo rejeitos de mineração, resultando em intensa destruição nos povoados próximos à jusante da mineradora e diversos outros impactos que se estenderam por 650 km (1). Foi o maior desastre mundial desse tipo desde os anos 1960, resultando em danos humanos e ambientais que podem ter um horizonte temporal de longo prazo, efeitos irreversíveis e de difícil gestão (2).
Tendo como referência as prioridades do Marco de Sendai (2015), que norteiam em nível global a gestão do risco de desastres, este artigo tem como objetivo extrair lições para a redução substancial, no Brasil, dos riscos de desastres e de impactos ambientais, sanitários e socioeconômicos que os mesmos provocam. Isto requer: 1) compreensão ampla das causas e impactos ambientais, humanos e socioeconômicos desses desastres; 2) compreensão sistêmica da capacidade de governança para a redução de risco de desastres; 3) compreensão das capacidades de preparação para respostas eficazes - não como algo limitado ao período imediatamente pós-evento, mas como integrantes dos processos de recuperação, reabilitação e reconstrução após os eventos iniciais que resultam nos desastres.
Desastre do rompimento da Barragem em Mariana: análise do papel da empresa poluidora no monitoramento da qualidade da água e sua divulgação para a população diante do dever fundamental de proteção socioambiental.
Arquivo
Analisa, se existe, e quais os fundamentos, para o dever de atuação da empresa responsável pelo desastre ambiental no monitoramento da qualidade da água e na sua ampla divulgação para a população, após o rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro em Mariana/MG. Através do método dedutivo e da utilização de relatórios de instituições públicas e privadas e da bibliografia sobre o tema, percorre-se os seguintes objetivos: identificar os principais impactos na qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Doce causados pelo rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG); verificar o correto enquadramento da catástrofe como um desastre decorrente da atuação humana; analisar o desastre dentro da noção de desenvolvimento econômico sustentável; identificar os deveres fundamentais, especificamente o dever de proteção ambiental reconhecido pela Constituição de 1988; verificar se existe o dever de atuação da empresa poluidora no monitoramento e na divulgação da qualidade das águas após o desastre ambiental. Por fim, conclui-se que, após o rompimento da barragem de Mariana/MG, a empresa responsável pelo desastre ambiental tem o dever de atuar no monitoramento da qualidade das águas atingidas e divulgar a informação para a população, diante do princípio do poluidor pagador e do dever de informação da população, dever esse que sustenta a participação popular em uma democracia socioambiental e permite que as pessoas prejudicadas disponham das informações necessárias para buscar a reparação do dano.
A história contada pelos vitoriosos: uma análise do Programa Vimver da extinta Fundação Renova
Arquivo
Este artigo analisa o programa Vimver (vivências no território), promovido pela extinta Fundação Renova e tem por objetivo compreender qual é a memória construída pelo citado programam acerca da queda da barragem de Fundão, ocorrida em novembro de 2015 e que ainda hoje encontra-se prejudicando a vida de milhares de pessoas atingidas. A metodologia de pesquisa foi a qualitativa do tipo desk research, com análise de documentos referentes ao programa Vimver, desde cartilhas do programa a reportagens midiáticas sobre ele. Os dados analisados foram cotejados à luz das teorias da Sociologia do Desastre e do Dark Tourism. Os resultados apontam para a construção de uma história unidimensional, construída e narrada exclusivamente pela extinta Fundação Renova, que acaba utilizando-se dos meios midiáticos para promoção de sua reputação e a das mineradoras controladoras e da Samarco. Ao invés de haver promoção de diálogo e controle social, a Fundação Renova oblitera os direitos dos atingidos, impedindo o acesso a informações idôneas sobre a queda da barragem de Fundão.
Qualidade da água tratada dos municípios atingidos após o rompimento da barragem de Fundão.
Arquivo
No dia 5 de novembro de 2015, ocorreu o maior desastre ambiental no Brasil provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG. As análises da qualidade da água no Rio Doce, região de Minas Gerais, ao longo de duas décadas, demonstraram que existia contaminação de alguns metais, mas que foi potencializada no período imediato após o rompimento da barragem. Este estudo busca apresentar e avaliar dados de amostras de água para consumo humano realizado por estruturas de Vigilância em Saúde Ambiental nas Estações de Tratamento de Água de Aimorés, Alpercata, Galiléia, Governador Valadares, Itueta, Resplendor e Tumiritinga, impactadas pelo rompimento da barragem entre os anos de 2015 a 2019. Foram analisados os parâmetros alumínio, antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo, cobre, ferro, manganês, mercúrio, níquel, selênio, sódio, zinco, coliformes totais, Escherichia coli, cloro residual livre e turbidez, com resultados de não conformidade para cloro residual livre, turbidez, manganês total, alumínio e ferro total, coliformes totais e Escherichia coli. Complementarmente, os dados foram discutidos e comparados com a série histórica do monitoramento da qualidade da água do Rio Doce realizado pelo IGAM/MG. Considerando-se o período de quatro anos após o rompimento, os resultados sugerem eficiência do tratamento, entretanto, recomenda-se maior planejamento e adequação dos processos de tratamento e gestão, tendo em vista as características dinâmicas da água após um desastre ambiental.